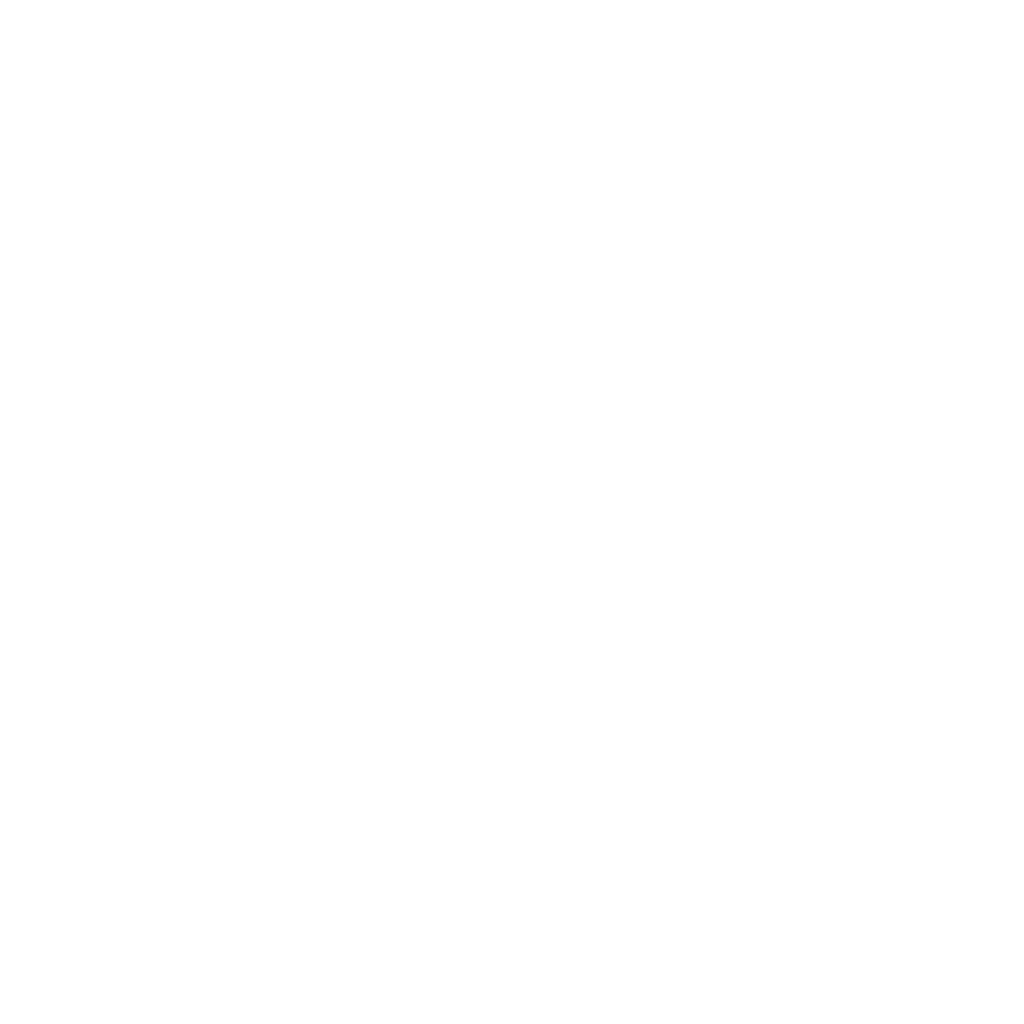
O atendimento às crianças pequenas no Brasil tem sido um desafio ao longo da história do nosso país. A discussão entre qualidade da educação na primeira infância e a concepção social de infância tem trazido à tona questões políticas e históricas que nos fazem refletir mais amplamente acerca do papel da sociedade e das políticas públicas para educação infantil.

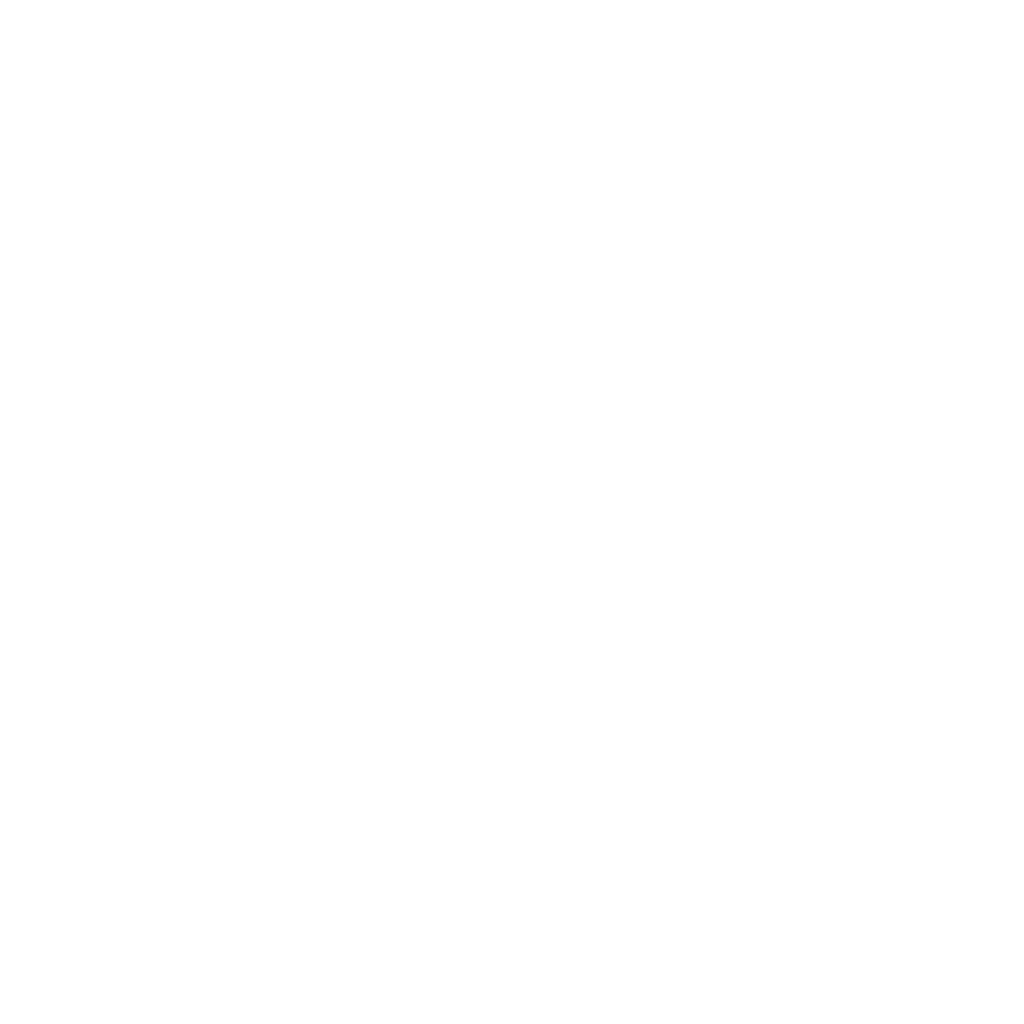
O atendimento às crianças pequenas no Brasil tem sido um desafio ao longo da história do nosso país. A discussão entre qualidade da educação na primeira infância e a concepção social de infância tem trazido à tona questões políticas e históricas que nos fazem refletir mais amplamente acerca do papel da sociedade e das políticas públicas para educação infantil.

A identidade da educação infantil ora tende para a escolarização – preparação para o ensino fundamental, ora para o assistencialismo, entendido como cuidar das crianças desprovidas de atenção e criar hábitos de civilidade, numa contribuição que se estenda para a família e para a comunidade. (CORSINO, p. 35).
Mas o que é currículo para educação infantil? Diversos autores dentre eles, Claparéde (1905), Decroly (apudOLIVEIRA 2006), especialmente Freinet (1989) contribuem para que se possa afirmar que se faz necessário sair da sala de aula em busca de vida existente no entorno próximo, para que no ambiente natural e humano, os verdadeiros interesses da criança possam fluir. O estudo do meio continua a ser o ponto de partida para Freinet e o ponto de partida é a surpresa perante a realidade, e a necessidade, ao mesmo tempo, de compartilhar com os demais essa admiração e a busca de uma explicação. Ou seja, o mais importante para Freinet, é a criação de meios que suscitam perguntas. (LEGRAND, 2010, p.175).
O atendimento às crianças pequenas no Brasil tem sido um desafio ao longo da história do nosso país. A discussão entre qualidade da educação na primeira infância e a concepção social de infância tem trazido à tona questões políticas e históricas que nos fazem refletir mais amplamente acerca do papel da sociedade e das políticas públicas para educação infantil. Mesmo com as conquistas do Brasil democrático, com a Constituição de 1988 que assegurou o direito das crianças do nosso país a frequentarem creches e pré-escolas e com a LDB de (1996), em torno de políticas públicas de atendimento a educação infantil, percebemos a existência de um hiato entre a teoria e a prática cotidiana em instituições destinadas a infância. Que concepção de infância as propostas pedagógicas, curriculares e orientações, emanadas pelos sistemas de ensino, apontam?
Segundo o MEC (1996), a expansão do atendimento para as crianças pequenas trouxe, no início dos anos 1980, a necessidade de se pensar um currículo para a pré-escola e posteriormente para a creche, pois esta, nasce dissociada de uma intencionalidade educativa.
Desta forma o termo educação infantil surge entrelaçando os aspectos cuidar e ensinar com intuito de garantir um atendimento de maior qualidade e igualdade às crianças brasileiras.
Dentro dessa perspectiva, é importante nos perguntarmos que concepção de infância norteiam as práticas e propostas pedagógicas contemporâneas? Como entendemos as crianças, as culturas infantis e as narrativas da infância? Que educação infantil é essa que ainda se faz
pela sala de aula?
Segundo Anna Tardos, pelo nome de atividades dirigidas entende-se em geral, o tempo o qual se mostra, ou se apresenta, ou se ensina alguma coisa para as crianças (FOLK, 2008, p.70) Partindo dessa perspectiva, observamos cotidianos de escolas de educação infantil que limitam o tempo do brincar livre, ocupando a criança de fazeres e produtos, com
proposições diretas do adulto, enfatizando apenas dimensão cognitiva, separando corpo e mente. Ressaltam assim ideias estereotipadas sobre a imagem das crianças e das infâncias inibindo, dessa forma, as potências criadoras e a autonomia, limitando seus modos de agir e ser no mundo.
Patricia Corsino (2012), afirma que a busca de muitas escolas pela implantação de uma proposta que atenda ao mundo contemporâneo tornou o professor um objeto dessa ação, que não se reconhecia nos novos modelos curriculares, nem por uma afinidade teórica, nem pelo fazer prático. Com isso, há uma ruptura com o saber fazer e essa ruptura enfraquece as iniciativas coletivas.
Na mesma perspectiva, as ideias de Freinet, do início do século XX, já afirmavam a necessidade de escolas serem um espaço de cooperação mesmo em face de um sistema hierárquico e controlador. Isso fica bem claro no Movimento Freinet, Um “Movimento Cooperativo” em que as pessoas, voluntariamente, compartilham reflexões e produções
(LEGRAND, 2010, p.216). Nesse aspecto, as ideias de Freinet tornam-se atuais pois reafirmam a necessidade de renovação do ensino indispensável para a libertação do homem. Sendo assim, uma vez que a vida em sociedade se torna cada vez mais complexa, a verdadeira contemporaneidade não está em apenas adquirir bens de consumo, deter as melhores tecnologias ou atentar para descobertas científicas. Ser contemporâneo implica em uma consciente compreensão do próprio papel, aqui e agora, num mundo em constante efervescência, política, econômica e sociocultural.
No entanto, a sociedade contemporânea é predominantemente urbana. Segundo pesquisa no Brasil, 84% da população vive em cidades (IBGE,2010) e 47% das pessoas não se sentem seguras na cidade em que moram (IBGE, 2010).
O modelo de urbanização das cidades compromete os espaços naturais, sendo estes, atualmente, predominantemente edificados, fechados. O padrão internacionalmente recomendado de área verde por pessoa é de 12m2, segundo a Agência Estado (2012) e hoje nos deparamos com um percentual de menos de 30% dessa metragem nas principais cidades urbanas brasileiras. Imaginem o impacto desses dados no cenário atual de Pandemia. Independente da Covid -19, a rua deixou de ser o lugar de encontro entre crianças e famílias, lugar de brincadeira, de interação, de andar livremente, de criação, de imaginação de corpo, de movimento. Entre as causas estão a violência, a concepção contemporânea de tempo e o intenso tráfego de veículos.
A complexidade e a diversidade de funções e categorias do sistema de espaços livres urbanos justificam o interesse em entender o papel e a importância dos pátios escolares como ambientes de lazer e socialização absorvendo funções antes atribuídas às praças de vizinhança – e como protagonistas o processo educativo – o que implica reconhecer a influência do entorno e de suas características socioespaciais (FARIA, 2011, p.38).
As escolas privilegiam o conhecimento cognitivo, limitando cada vez mais o brincar ao ar livre, o movimento, o corpo e a interação com a natureza. Os espaços ao ar livre estão cada vez mais reduzidos nas creches e escolas de educação infantil. Os quintais e pátios não apresentam desafios diversificados que somente os terrenos naturais oferecem por si só. E, mesmo com pouco espaço livre, os recreios e tempos de brincar se limitam cada vez mais em prol da cognição. Esta é uma situação que atinge a sociedade contemporânea e precisamos refletir sobre esse modo de vida. Que grande desafio é crescer sem esquecer quem verdadeiramente somos.
As famílias contemporâneas, assim como as escolas, por receio à violência ou proteção, não permitem que as crianças brinquem ao ar livre de forma não estruturada, espontânea. A infância está socialmente emparedada e consequentemente, mais sujeita a distúrbios de linguagem e de sono, obesidade, hiperatividade, baixa motricidade, falta de equilíbrio, agressividade e depressão.
Acreditamos que, mais do que nunca, se faz necessário nas escolas da infância brasileiras, especialmente em cidades urbanas, uma reflexão sobre a ressignificação do uso dos espaços escolares e seus tempos, para que estes sejam realmente o lugar de encontro das manifestações infantis e fortalecimento de suas culturas.
Ao observarmos as crianças em sua relação com ambientes naturais, percebemos a capacidade que esses espaços têm de acolher as individualidades, sejam na potência expansiva, dos movimentos livres ou na sutileza dos pequenos encontros, na contemplação e na introspecção.
Segundo a arquiteta Mayumi Souza Lima, “a escola é o único espaço que as cidades oferecem universalmente como possibilidade de reconquistas dos espaços públicos e populares – domínio das atividades lúdicas – que as crianças perderam na cidade capitalista e industrial” (apudBARROS, 2018, p.18) e isso compromete que as crianças se apropriem das culturas da infância porque inibem a socialização, a troca, o convívio, o encontro e a circulação de saberes , brincadeiras, hábitos e costumes.
Diante disso, os espaços de creches e pré-escolas precisam ser pensados para além dos portões e muros que o cercam. Precisam de ocupação do espaço público, de ocupação na vida da sociedade para que a criança possa ocupar seu lugar de sujeito de direito, garantido pela Constituição de 1998, LDB (1996) e descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL 2009). Para efeito das diretrizes destaco a definição 2.2 Criança.
Segundo o Artigo 29, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20/12/1996 (Lei no. 9.394), a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade.
Para pensarmos no desenvolvimento integral das crianças, em suas múltiplas potencialidades, faz-se necessário entendermos que os aprendizados acontecem não só nos espaços da escola, mas também em seu entorno, no encontro com a comunidade e a vida cotidiana. “Tudo é potencialmente território educativo e, portanto, sujeito a acolher a intencionalidade pedagógica” (BARROS, 2018, p.29).
A criança, como ser social, tem a seu favor uma espontaneidade singular. Criança é natureza e cultura, é sujeito de direito e se constitui socialmente através das experiências sociais com o outro e com o meio e, os espaços de liberdade e o brincar livre, oferecem a cada criança um mundo mais vasto e plural.
Segundo Freinet, a importância do imprevisível, em sintonia com os acontecimentos cotidianos, e seu interesse pelo desenvolvimento da autonomia das crianças, levam-no a conceber o uso do tempo de modo mais flexível. Para Freinet era essencial “viver” antes de teorizar (LEGRAND, 2010, p 214).
Dialogando com as ideias de Freinet, e com as concepções de infância descritas nos documentos oficiais brasileiros, a abordagem Pikler reforça a importância da regularidade de tempo e espaço nas tarefas cotidianas, não uma regularidade no aspecto mecânico e inflexível,
pelo contrário, um dispor de tempo cuidadoso e consciente, de cumplicidade, que valorize o encontro entre educadores, bebês e crianças para que esses desfrutem bem das experiências de cuidado e vínculo e nutridos emocionalmente pela interação profunda com o educador (SOARES, 2017) sejam capazes de desenvolverem confiança em si mesmos. Para Emmi Pikler o brincar livre em ambiente seguro desenvolve iniciativa e autonomia e provoca flexibilidade, equilíbrio e alegria. (SOARES, 2017, p.17)
O brincar para a criança, não é apenas um entretenimento, que equivale ao ócio do adulto, mas representa sua atividade principal. Brincando a criança conhece o mundo, se apropria dele, o internaliza e aprende a conviver com as leis que o regem e organizam. O ambiente ao seu redor é um grande laboratório e os objetos variados colocados a sua volta geram condições necessárias para que se autodesafie, explore, investigue, aprenda, desenvolva sua inteligência e construa sua personalidade (SOARES, 2017, p.30).
Diante destes fatos novamente me pergunto: que educação infantil é essa que ainda se faz pela sala de aula? Os espaços de educação infantil precisam promover o reencontro da criança com o lado de fora, com o engajamento coletivo e a ocupação do espaço público, repensando o seu cotidiano e currículo, fazendo valer às políticas públicas destinadas à infância, dentre elas cito dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
Art.58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais,
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura.
Art.59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para a programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude.
Outro documento importante, mas pouco estudado no âmbito educacional são os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006, p.8) de onde destaco:
Os espaços de educação infantil devem ser variados de forma a favorecer diferentes tipos de interação e que o professor tem papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o processo educacional. Tal trabalho baseia-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e dos interesses expressos pelas crianças, transformando-se em objetos pedagógicos”. O espaço deve ser “promotor de aventuras, descobertas, criatividade, desafios e aprendizagem, e também favorecer a interação criança-criança, criança-adulto, criança-ambiente. Deve se constituir como espaço, lúdico, dinâmico, vivo, brincável, explorável, transformável e acessível a todos” (BRASIL, 2018, p. 33-34).
No entanto, o que observarmos na maioria das creches e escolas de educação infantil brasileiras são propostas onde os tempos, espaços e relações são determinadas por atividades sistemáticas e dirigidas com a função de controle corpóreo, onde bebês e crianças pequenas apresentam produções com resultado semelhantes entre elas (SOARES, 2017, p.31), desrespeitando não apenas a legislação brasileira, mas especialmente o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor das crianças. Como dar visibilidade às manifestações infantis na sociedade contemporânea? Como formar educadores capazes de reconhecer na potência da cultura da infância um diálogo com os documentos norteadores brasileiros? Como formar professores sensíveis que sejam capazes de praticar uma escuta ativa, visível e singular?
Acreditamos que arte e a experiência estética seja um caminho. E você?